Filósofo esloveno analisa ganhador do Oscar, Guerra ao terror, que "humaniza" soldado mas evita a pergunta chave sobre o que o Exército estadunidense está fazendo no Iraque? O autor lembra que dois filmes israelenses sobre o Líbano usam o mesmo truque.
Slavoj Zizek*
Fonte: El País
A opinião é do filósofo esloveno Slavoj Zizek, em artigo para o jornal El País, 24-03-2010. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o texto.
Quando "Guerra ao terror", de Kathryn Bigelow, conquistou os principais Oscars frente a "Avatar", de James Cameron, essa vitória foi percebida como um bom sinal do estado das coisas em Hollywood: uma modesta produção pensada para festivais do tipo Sundance e que, em muitos países, nem sequer havia obtido uma grande distribuição, supera claramente uma superprodução cuja brilhantez técnica não pode dissimular a plana simplicidade de seu roteiro. Então Hollywood não é só uma fábrica de grandes sucessos de bilheteria, mas também sabe apreciar esforços criativos marginais?
É possível, embora seria preciso matizar: com todas as suas mistificações, "Avatar" claramente toma partido pelos que se opõem ao complexo industrial-militar mundial, retratando o Exército da superpotência como uma força de destruição brutal ao serviço de grandes interesses industriais, enquanto "Guerra ao terror" apresenta o Exército norte-americano de um modo plenamente de acordo com sua própria imagem pública neste nosso tempo de intervenções humanitárias e de pacifismo militarista.
O filme ignora quase por completo o grande debate sobre a intervenção dos Estados Unidos no Iraque e, em lugar disso, centra-se nas terríveis experiências diárias, de serviço e fora dele, de soldados comuns obrigados a conviver com o perigo e a destruição. Com um estilo pseudo-documental, conta a história – ou melhor, uma série de pequenas histórias – de um esquadrão antibombas, de seu trabalho potencialmente mortal na desativação de explosivos.
Essa opção é sumamente sintomática: apesar de serem soldados, eles não matam, mas arriscam diariamente suas vidas desmantelando bombas terroristas destinadas a matar civis. Pode haver algo que simpatize mais os nossos olhos progressistas? Na Guerra contra o Terror em curso, nossos exércitos não estão, inclusive quando bombardeiam e destroem, e não só essas unidades antibombas, desativando pacientemente as redes terroristas com o fim de tornar mais seguras as vidas de civis em todos os lugares?
Mas há mais no filme. "Guerra ao terror" incorpora a Hollywood uma moda que também contribuiu para o êxito de dois filmes israelenses recentes sobre a guerra do Líbano de 1982, o documentário animado de Ari Folman, "Valsa com Bashir", e "Líbano", de Samuel Maoz.
"Líbano" versa sobre as próprias recordações de Maoz como jovem soldado, mostrando o medo da guerra e a claustrofobia mediante a filmagem da maior parte da ação a partir do interior de um tanque. O filme nos apresenta quatro soldados inexperientes dentro de um tanque, enviados a "limpar" uma cidade libanesa que já foi bombardeada pela força aérea israelense. Entrevistado no Festival de Veneza de 2009, Yoav Donat, o ator que interpreta o diretor quando este era soldado um quarto de século antes, disse: "Não é um filme que lhe faz pensar 'só estou em um filme'. É um filme que faz com que você sinta que esteve na guerra". De uma forma parecida, "Valsa com Bashir" mostra os horrores do conflito de 1982 a partir do ponto de vista de soldados israelenses.
Maoz disse que seu filme não era uma condenação às políticas de Israel, mas sim uma versão pessoal da experiência pela qual ele havia passado: "Cometi o erro de chamar o filme de 'Líbano', já que a guerra do Líbano não é diferente em sua essência que qualquer outra guerra, e pensei que qualquer tentativa de politizá-la estragaria o filme".
Isso é ideologia em seu estado mais puro: o fato de reviver a traumática experiência do perpetrador nos capacita para apagar o pano de fundo ético-político do conflito: o que o Exército israelense estava fazendo no interior do Líbano etc. Tal humanização serve, assim, para jogar uma cortina de fumaça sobre a questão fundamental: a necessidade de uma análise política implacável do que está em jogo como consequência da nossa atividade político-militar. Nossas lutas político-militares não são precisamente uma história opaca que desbarata bruscamente nossa vida íntima, são algo em que participamos plenamente.
De um modo mais geral, essa humanização do soldado (na direção da proverbial crença "errar é humano") é um elemento chave da (auto) apresentação das forças armadas israelenses: os meios de comunicação israelenses gostam de reforçar as imperfeições e os traumas psíquicos dos soldados israelenses, não os apresentando nem como máquinas militares perfeitas, nem como heróis sobre-humanos, mas sim coo pessoas comuns que, agarradas pelos traumas da História e da guerra, comete erros e pode se perder, como todo mundo.
Por exemplo, em janeiro de 2003, quando as forças armadas israelenses demoliram a casa da família de um suposto "terrorista", fizeram isso com acusada amabilidade, inclusive até o ponto de ajudar a família a transportar os móveis para fora antes de destruir a casa com uma retroescavadeira. Na imprensa israelense, informou-se pouco tempo antes sobre um episódio semelhante: quando um soldado israelense estava inspecionando uma casa palestina em busca de suspeitos, a mãe da família chamou sua filha pelo seu nome a fim de tranquilizá-la, e o soldado, surpreso, soube então que o nome da aterrorizada menina era o mesmo da sua própria filha: em um arrebatamento sentimental, tirou sua carteira e mostrou sua foto à mãe palestina.
É fácil perceber a falsidade desse gesto de empatia: a ideia de que, apesar das diferenças políticas, todos somos seres humanos com os mesmos amores e preocupações, neutraliza o impacto daquilo que o soldado está efetivamente fazendo nesse momento. Assim, a única resposta apropriada da mãe deveria ser: "Se realmente você é tão humano como eu, por que está fazendo o que está fazendo agora?". O soldado então só pode se amparar em um dever objetivado: "Não gosto de fazer isso, mas 'é' meu dever..." – evitando assim assumir esse dever de forma subjetiva.
A mensagem dessa humanização é pôr de manifesto a brecha entre a complexa realidade da pessoa e o papel que esta tem que desempenhar contra sua verdadeira natureza. "Em minha família, a genética não é militar", como diz um dos soldados entrevistados em "Tsahal", de Claude Lanzmann, surpreso por se ver como oficial de carreira.
E isso nos faz voltar a "Guerra ao terror": sua descrição do horror diário e do traumático impacto do serviço em uma zona de guerra parece situá-la a milhas de distância das sentimentais celebrações do papel humanitário do Exército norte-americano, como o infame "Os boinas verdes", de John Wayne.
No entanto, sempre deveríamos ter presente que as áridas e realistas imagens do absurdo da guerra de "Guerra ao terror" turvam, tornando-o assim aceitável, o fato de que seus heróis estão fazendo exatamente o mesmo trabalho que os heróis de "Os boinas verdes". Em sua própria invisibilidade, a ideologia está ali, mais do que nunca: estamos ali, com nossos rapazes, identificando-nos com seus medos e suas angústias, em vez de nos perguntarmos o que ele estão fazendo ali.
(*) Folósofo esloveno
Data de Publicação: 24-03-2010
quinta-feira, 25 de março de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)

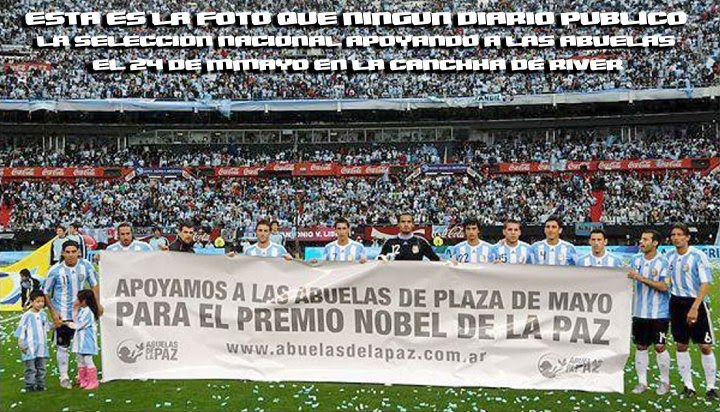





















Nenhum comentário:
Postar um comentário