Jornalista nicaraguense e militante sandinista fala sobre a experiência em se país a partir da revolução que derrubou ditadura sangenta dos Somoza
Fonte: Transcrição seminário enff/cepis.
William Grisby
Quero começar agradecendo profundamente, não somente a vocês, enquanto representantes do povo brasileiro, mas em particular aos companheiros que nos atenderam, Rubens, Celeste, Ranulfo, os companheiros do CEPIS que se esforçaram para que nos sentíssemos em casa, para que pudéssemos nos comunicar com vocês e transmitir nossos conhecimentos. Atrevo-me a pedir um aplauso para eles.
Eu sou jornalista, trabalho em rádio e há 6 dias não segurava um microforne, o que já me fazia falta. No entanto, sou também militante sandinista há muitos anos, 26 ou 27. Eu comentava com os companheiros salvadorenhos e de outros países latino-americanos que nossa grande dor é haver nos tornado especialistas em explicar nossas derrotas. Há somente 15 anos éramos os orgulhosos portadores de uma vitória popular que causou admiração no mundo inteiro. Ontem, Esther me dizia: “A Nicarágua era como o centro do mundo, hoje já não é assim”. O que eu gostaria de transmitir-lhes é algo do que fizemos mal e que também pode lhes acontecer. Para não repetirmos erros na resistência contra o imperialismo.
Muitas vezes se analisou por que a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) perdeu o poder na Nicarágua. Não vou aprofundar o tema. Só quero compartilhar com vocês algo que me parece ter sido nosso principal equívoco: o momento em que deixamos de ser intérpretes do sentimento popular, intérpretes da gente do país; no momento em que uma coisa era o comando da revolução e outra o que as pessoas sentiam. Acho que esse momento marcou o começo do fim de nosso poder na Nicarágua. Porém, vejam bem, também cometemos muitos erros depois de perder o poder. Por exemplo, endeusamos nossos dirigentes. Um dos motivos pelos quais conseguimos vencer a ditadura de Somoza foi justamente a direção conjunta. Esta tomava as decisões coletivamente, o que nos permitia levantar um muro diante de eventuais equívocos políticos.
Também nos permitiu evitar o culto à personalidade, o que é muito importante. Lembro-me que na guerra contra Somoza, mataram pelo menos 20 de nossos dirigentes nacionais. Houve um momento nessa guerra em que haviam matado quase toda a direção do movimento, com exceção de um dirigente. Sempre havia quem tomasse o lugar dos que partiam, a continuidade estava sempre preparada. Não porque fosse espontânea, mas porque estava prevista. Os dirigentes não são eternos. Devemos prever quem assumirá seu lugar. Não é nomear um vice-secretário geral, ou secretário adjunto, ou vice-presidente. Não, significa ter companheiros e companheiras preparados para assumir a direção do movimento, do partido, do que seja, no caso da falta dos dirigentes, e isto pode acontecer a qualquer dia.
Nós perdemos a direção compartilhada. Hoje, nosso partido é quase propriedade familiar de Daniel Ortega, de sua esposa, Rosario Murillo, e de seus filhos, que são o centro do poder da FSLN. Isso pode ser evitado se fortalecermos a tomada coletiva de decisões nos diferentes escalões de organização.
Há outro fator que, me parece, pode ser-lhes útil. Assim como empenhamos todos nossos esforços para uma vitória, queremos também preparar-nos para saber resistir a uma derrota. Vou contar-lhes uma experiência. Na Nicarágua – e estou certo de que no Brasil, em El Salvador, por todas partes – ninguém esperava a derrota da FSLN. Todos, em todos os lugares, prepararam grandes festas para o dia da vitória, 25 de fevereiro. Nós não nos preparamos para a derrota.
Havíamos feito uma reforma agrária que distribuíra um milhão de hectares, mas sem dar os títulos de propriedade aos camponeses. Havíamos entregue moradias e lotes urbanos sem os respectivos títulos de propriedade. Depois da derrota, os camponeses têm terras onde moram e trabalham, mas estas não lhes pertencem legalmente. Ainda hoje, 15 anos depois, continua a disputa pela posse do que a revolução entregou.
Quero, também, contar-lhes outra coisa. Fomos derrotados. O que fazer? O que eu senti em primeiro lugar foi: “vão nos matar, porque a direita ficou valentona, vão nos matar”. Passei a procurar casas de amigos que moravam longe, ou amigos que não via há muito tempo, preparando-me um lugar seguro para me esconder se houvesse um governo fascista. Isto era uma possibilidade. Comecei a tomar medidas de segurança, com quem andava, se alguém me seguia, este tipo de coisas.
O que evitou que na Nicarágua houvesse uma opção fascista? O exército. À diferença de toda América Latina, é um exército que vem do povo. São os guerrilheiros, “los muchachos”. Os mais velhos aqui podem lembrar que nós, sandinistas, éramos chamados de “los muchachos”. Nossos rapazes, alguns já nem tanto –até carecas estão– são os do exército da Nicarágua.
Nestes 15 anos, o exército se portou como uma instituição que, na realidade, é o fator de equilíbrio na sociedade nicaragüense. Sem ele, nós, sandinistas, teríamos sido perseguidos, presos, espoliados, assassinados. Quero enfatizar que as armas são o fator que desequilibra o poder em uma sociedade, não esqueçam. Não esqueçam a lição de Allende. Lembro-me, não porque tenha visto, mas lido, que o exército de Fidel quando chegou a Santiago do Chile, na entrevista com o presidente Allende, entregou-lhe um fuzil. Não é um convite, apenas um pedido para que não esqueçam.
Acredito que há muitas outras lições. Parece-me, nesta discussão entre movimentos sociais e partidos políticos, que a revolução sandinista só pôde acontecer porque houve um movimento social. Realmente, a revolução nicaragüense é fruto das massas, não é fruto de um grupo de guerrilheiros. Na Nicarágua, a revolução foi um fenômeno de massas. Como é agora em Cuba e na Venezuela.
Sabem quantos eram os militantes sandinistas? Contabilizados, recenseados, em 1980, havia 1.200 sandinistas. Sei que vocês podem me perguntar como 1.200 expulsaram um exército. Pelo povo. Foi o povo que fez a revolução, e nós éramos instrumentos do povo. Não é verdade que a vitória seja responsabilidade de um partido, um destacamento, uma vanguarda. Não é verdade. É o povo organizado, que vai de peito aberto, disposto a morrer. Acho que nunca devemos esquecer isso.
Não devemos tampouco ter medo de ser minoria. Um companheiro suiço, a quem quero muito bem, Gerard Fioretta, revolucionário de muitos anos, foi para a Nicarágua, em 1980, viver a revolução. Ele me dizia: “o que senti de mais bonito na Nicarágua foi ser maioria pela primeira vez”. Porque a esquerda revolucionária havia ficado em minoria antes da revolução, por 20 anos. E pela primeira vez um revolucionário podia andar por qualquer rua, era maioria. No entanto, não devemos ter medo de ser minoria.
Três anos antes da revolução sandinista, em 1976, se vivia na Nicarágua a pior repressão da ditadura. Somente em uma zona rural, em 2 meses, assassinaram 3.000 camponeses e camponesas. Ninguém soube disso até que frades capuchinhos denunciaram o crime. Os dias mais tenebrosos aconteceram um ano antes da vitória, porque fomos derrotados na insurreição de setembro de 78. Dez meses antes da revolução sandinista. Muitos chegaram a pensar que era a derrota da revolução. Dez meses depois vencemos. Por firmeza, por capacidade de articulação com as pessoas, por muitos fatores.
Não tenhamos medo de ser minoria, porque, se olharmos a história, vemos que vem por ondas revolucionárias. E os povos caminham em ondas. O contingente revolucionário deve estar preparado para quando estoure a revolução, o que não se pode calcular politicamente. Não se prevê a revolução, “em tal ano vamos fazer a revolução”. Não é assim, não funciona assim. Pode acontecer amanhã mesmo, literalmente falando. Como também pode acontecer daqui a 30 anos. Devemos estar preparados para o momento, para saber o que fazer em tal momento. Como enfrentar o momento histórico.
Quero também compartilhar outra experiência que, acredito, pode lhes ser útil. Nós conquistamos o apoio das pessoas sem tentar convencê-las – também diziam que a guarda somozista era cruel, que os ianques eram maus -, o principal fator para os sandinistas conquistarem os corações dos nicaragüenses foi o exemplo pessoal. Se dizíamos que íamos combater, os sandinistas eram os primeiros a ir para as fileiras do combate. Se não havia o que comer, tampouco nós, sandinistas, comíamos. O exemplo pessoal. De nada serve um lindo discurso se seu exemplo não corresponder às suas palavras, ou seja, a coerência revolucionária. Como é difícil ser coerente! Em termos pessoais, minha obsessão é agir de forma coerente com o que falo.
Conheço um exemplo histórico, e não é por retórica que o menciono, mas porque sinto assim, o paradigma da coerência, que é o Che. O Che dizia uma coisa e cumpria. E foi sempre assim. Foi capaz de renunciar ao comando da revolução cubana para ir lutar por outro povo, por amor ao povo latino-americano. Foi coerente até o último minuto. Não digo que todos entreguemos a vida pelo que quer que seja, mas o que digo, o que lhes convido a fazer, é nos esforçarmos para ser coerentes todos os dias. Se somos revolucionários, devemos ser coerentes em obras e em palavras, em atos e em discursos.
Infelizmente, nós, os sandinistas já não somos exemplo. Convertemo-nos em qualquer coisa menos em partido revolucionário, apesar de haver quem continue na luta, quem se esforce para recuperar esse instrumento. Há mais, reparem. O importante, do meu ponto de vista, não é o instrumento. Existem aqueles que acreditam que, pelo movimento ou pelo partido, tudo é válido. Não, não, o partido é um instrumento. E se o partido não serve por qualquer razão, vamos trocá-lo por outro instrumento. Não é questão de tirar uma camisa e colocar outra, o que quero dizer é que a causa é o principal, não o instrumento.
Nós nos “casamos”- em sentido figurado -, com idéias, aderimos a idéias, a propostas. Não devemos nem podemos encarná-las nos dirigentes. Se um dirigente vai por esse lado, vamos todos. Se vai para o outro, vamos também. Sejamos sensatos e críticos para seguir idéias. Quando os dirigentes não encarnem mais as idéias, não vamos segui-los, vamos seguir as idéias. Evitemos o caudilhismo. Uma coisa é a liderança, outra é o caudilho. Acho que, infelizmente, na esquerda caimos no caudilhismo com muita freqüência. Não somente a nível nacional: “Se fulano for, não vou”. Não vamos ceder ao caudilhismo mas seguir causas e idéias.
Para terminar, Jerônimo falava do amor como motor fundamental. Não é retórica. Sabem de quem me lembro todos os dias de minha vida? E falo com toda sinceridade: recordo os que tombaram. Meus companheiros e companheiras. Recordo, também, todos os dias, aqueles que tombaram em outras lutas, em outros povos que conheci. Sempre me pergunto: “O que faria Walter?” Ele foi meu primeiro mentor político. Foi morto pela guarda somozista. Eu me faço sempre esta pergunta, sobretudo quando tenho vontade de mandar tudo à merda. Tenho um compromisso com as pessoas que morreram. Aprendi com uma palavra de ordem em El Salvador, cujo povo me é muito próximo, que diz: “Porque não esquecemos a cor do sangue, os massacrados serão vingados”. Minha forma de vingá-los, no entanto, não é matando os que mataram – até que eu gostaria. Minha forma de vingá-los é construir o socialismo.
Muito obrigado.
segunda-feira, 28 de junho de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)

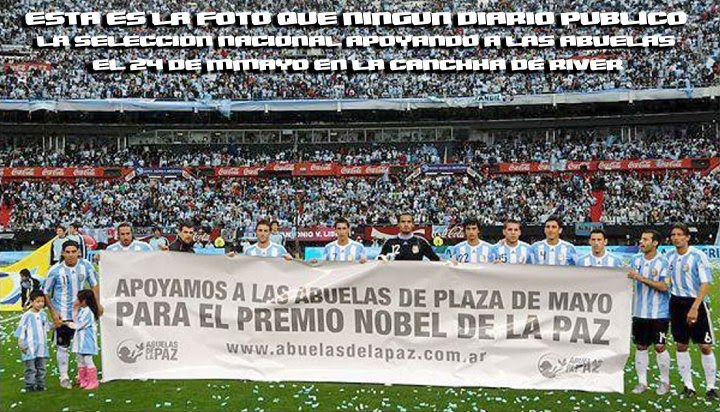





















Nenhum comentário:
Postar um comentário